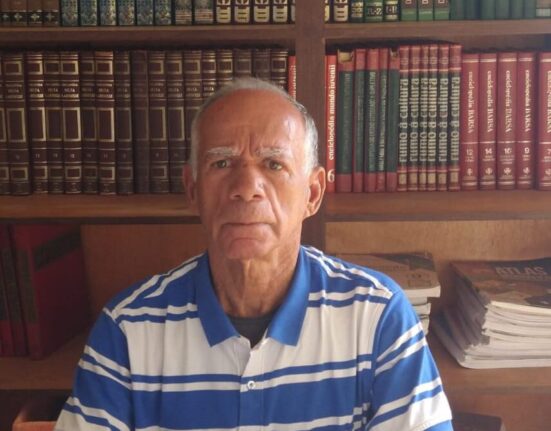A máquina fazia uma barulhão lascado rasgando o enorme canyon que ligava a ponte do Vale do Rio Pardo à entrada da futura cidade de Nova Conquista, uma renca de trabalhadores seguia atrás catando pedras, arrancando os tocos que a enorme escavadeira puxava das entranhas da terra e o chofer da enorme máquina, velhinho e decadente, usando um bonezinho furta-cor, óculos fundo de garrafa e completamente indiferente à poeira e ao barulhão, seguia o seu caminho. Abria-se um portal entre o Sul e o Norte do país, era a Br-116 – famosa Rio-Bahia – que começava a tomar forma em uma apoteótica construção. Estamos em 1937, o então povoado era assediado por famílias influentes (Oliveira, Gusmão, Sales e Ferraz) do planalto da Conquista que viam nesse torrão uma oportunidade de potencializar (ainda mais) o poder político que detinham na região, os Sales saíram na frente.
Alguns meses antes chegaram à Fazenda dos Rocha Viana uma comitiva de bem alinhados doutores de cartolas e polainas, buscando obter a permissão oficial do patriarca Ângelo (da Rocha Viana) para que parte da sua fazenda fosse desmatada em prol da construção da BR- 116. O que se tinha de mais moderno em tecnologia na época, acabara de chegar à região onde o principal meio de condução ainda se dava através dos lombos dos animais, nos quais, famílias inteiras se deslocavam por longas distâncias, quando não a pé, em carros-de-boi ou carroças puxadas por jegues ou burros. Como o pedido foi veementemente negado pelo líder do clã, os homens voltaram dias depois, antes mesmo do nascer do sol, acordando abruptamente os moradores da Fazenda. Ao saltarem afobados das suas camas, armados de tudo quanto há (espingardas, facões, foices, machados e bodoques) e vendo suas crianças correram nuas, assombradas, mato adentro, os Rocha Viana viram-se surpreendidos pela potência inigualável de uma frota de tratores importados do “estrangeiro”. Ignorando solenemente o apelo dos proprietários, condutores dos tratores rasgaram em plena luz do dia (ocultos por uma nuvem de poeira) as “entranhas” da enorme chácara que os Viana cultivavam. Sem muitas alternativas e diante do “poder de fogo” dos “invasores”, os Rocha-Viana viram-se forçados a acreditar na promessa de uma indenização que esperam até os dias de hoje. Um dia depois a fazenda foi tomada por uma comitiva composta por peões, engenheiros e jagunços (mal cheirosos e mal encarados) fortemente armados, guardando a leva de trabalhadores. No grito, na foice, no machado e na carabina quem sobrou para contar a história testemunhou a abertura da grande clareira que se transformaria na famosa BR-116, a nossa Rio-Bahia.
Neste tempo, o “grande centro comercial” da região era a Cajazeiras (município de Encruzilhada), localizada “no lado de lá do rio Pardo” onde uma ponte de madeira foi provisoriamente construída para a passagem de pessoas e dos poucos veículos que por aqui transitavam. Em meados do ano de 1948, em pleno Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, a ponte oficial (ainda existente nos dias de hoje) começou a ser construída. Acidentes, brigas, ataques de suçuaranas e de outros animais selvagens faziam parte do cotidiano destes trabalhadores. Todo santo dia acontecia um ou outro acidente, enquanto a “Cavo” (empresa responsável pela construção) seguia indiferente, rasgando o terreno onde se construiria a mais importante rodovia do país. À medida que o trabalho avançava uma leva de malandros, prostitutas e marreteiros seguia o “cortejo” buscando tirar vantagens dos infelizes. Nos dias de folga as “mulheres-damas” faziam vida alegrando os rapazes solteiros (e alguns casados) e nos dias de folga, forrós iluminados por candeias à base de carbureto eram improvisados. Na falta de mulher, dançavam-se homem com homem, algo muito comum na época. – Solta a concertina, Miguelão! Tá economizando os dedos, homem? – Um sanfoneiro de oito baixos, um panderista e as vezes um zabumbeiro faziam a alegria dos trabalhadores. Quando todo mundo estava mais ou menos moqueado as quatro ou cinco mulheres que existiam no recinto mal dava para quem queria, assim, ninguém se acanhava em dançar com um companheiro do mesmo sexo, alguns até achavam bom, caso do delicado e alegre Marcolino que trabalhava de apontador:
– Dança esta moda comigo, Marculino?
– É pra já, Godofredo. – E assim o fuá seguia até o amanhecer, quando todos acordavam ressaqueados, muitos dormiam ali mesmo na clareira de terra batida improvisada de salão, geralmente agarrado à um companheiro ou abraçados à uma meiota de pinga.
Eis que um belo dia foi ingressado às pressas ao quadro dos roçadores, um cafuzo baixinho, musculoso, mal educado e mal encarado de mais ou menos uns 20 anos de idade. O caboclinho era tão baixinho que dava pena, devia medir um metro e meio de altura, porém, dizia ser o maior valentão do mundo. Em pouco tempo o “Tamborete de Forró” (apelido que lhe deram) já chamava a atenção por ter o “estopim” mais curto que um coice de preá. Quando Manequinha tomava suas duas ou três lapadas de cana, o melhor era sair de baixo… – Tá me olhando por quê, galego? Gosto de “home” não moço, meu negócio é “muié”, tá sabendo? “Muié”! Eu gosto é de “muié”! Dê pinote “iantes” que eu lhe dê uns cascudos! – Bastava falar para o desafeto sair com o rabinho entre as pernas. Apesar de usar sempre a mesma roupa surrada, o baixinho gostava de empapuçar o cabelo de brilhantina pra combinar com o cavanhaque ralo que lhe dava a aparência de valentão. É importante que se diga que apesar de baixinho, Manequinha, realmente não tinha medo de “cara feia”. Brigava com todo mundo, apanhava mais do que batia, porém, não estava nem aí! Em pouco tempo arrumara uma dúzia de encrencas e uma renca de desafetos. Pra ele era comum andar com a cara toda quebrada, desde que o oponente ficasse do mesmo jeito. Seu Gonçalo, um velho e cansado senhor que tomava conta da turma andava doido para demiti-lo, mas, diante do ímpeto produtivo do baixinho, via-se obrigado a mantê-lo no emprego. Quando se encontrava de folga a diversão primordial do peão era encher a cara de pinga. Bebia até cair… No dia seguinte se levantava com o gosto característico de cabo de guarda-chuva na boca, gargarejava rapidamente um café forte e amargo, mascava meia dúzia de folhas de fumo secas e saía cuspindo a torto e a direito uma mistura preta e gosmenta nos pés dos companheiros. – E aí, achou ruim? Cai dentro pra ver o que é bom!
As grandes paixões do baixinho eram cachaça, fumo e mulher – não necessariamente nesta ordem -. Por estes “pequenos detalhes”, Manequinha matava ou morria! E não era só jogo de palavras não, quando recebia o seu pagamento a primeira coisa que fazia era correr para o prostíbulo que funcionava improvisadamente em um velho quiosque de tábua reciclada e gastava todo o seu dinheiro em cigarro, mulher e cachaça… O que sobrava, ele dizia que gastaria atoa!
Um ano de empresa e Manequinha continuava tocando terror nos colegas. Gostava de dizer que era xodozado com a mais experiente profissional de sexo do “prostíbulo itinerante”. A “mariposa” Tonha Capenga já batia na casa dos quarenta e alguns, porém, quando tomava suas canjebrinas bradava aos quatro ventos que entre quatro paredes não tinha inveja de nenhuma garota de 18. Tonha era altona e curvilínea, musculosa feito um halterofilista e adorava surrar malandros. Munido de grana, Manequinha e Tonha propagavam o maior amor do mundo… beijos, abraços, linguadas e muita canjebrina, porém, bastava o minguado de Maneca acabar para todo mundo saber. – Tonha de Deus, calma aí, lhe pago quando receber! – Gritava o baixinho apanhando de vassoura. – Seu caloteiro de uma figa, se não tem dinheiro o que você quer aqui, tamborete de forró? – Calma, amor, você é meu xodó! – Xodó o cacete, seu tampa de binga! – Só se via Tonha pegar Manequinha pelos quartos, jogar na cacunda e diante de todo mundo arremessar o infeliz literalmente pela janela do brega improvisado. A força era tanta que Manequinha se esborrachava todo no meio da recém-construída rodagem. Furiosa, Tonha beijava quem aparecesse pela frente apenas para fazer ciúmes ao baixinho. Não foram poucas às vezes que ele imaginou se separar da “moça”, porém, quando ela vestia aquele diabo de vestido de veludo e se lambuzava de água de cheiro, não tinha homem que resistisse ao seu “charme”. E nem se pode dizer que Tonha era bonita… o vestido longo revelava a sua barriguinha mal cuidada e o seu sorriso escancarado mostrava alguns dentes cariados que a ausência de luz elétrica e o batom ruge carmim ajudavam a disfarçar tão bem, porém, Maneca adorava navegar naquelas entranhas que as suas coxas volumosas ajudavam tão bem a esconder.
Evidente que, nos meados de 1947, já existissem um variado leque de veículos motorizados no Brasil, porém, aqui no “fim de mundo” carro era mais difícil que cabeça de bacalhau, embora, de vez em quando aparecessem alguns. Um Jeep aqui, uma Rural ali, um Chevrolet 1938… Todos, sem nenhuma exceção, transitando pela “estrada real” do Porto de Santa Cruz, a única existente até então.
Eis que um dia, Tonha acordou mal humorada e ao butucar os olhos em um condutor alemão parado na frente do barracão se apaixonou na hora. Pois não foi que Tonha não fugiu na boleia de uma Toyota? Sim… E quando Manequinha descobriu? Ah! Foi um fuzuê! Não teve homem (por mais forte que fosse) que conseguisse segurar o baixinho que de tão enfurecido jogou até alguns golpes de Capoeira de Angola derrubando metade do acampamento.
– Me solta, vou atrás daquela quenga, vou matar ela e ele, vou sangrar os dois igual se faz com bode. – O homem ficou tão desorientado que não sabia se brigava (derrubando os companheiros), gritava (alucinado) ou chorava (desolado). Foram mais de uma dúzia de homens para amarrá-lo numa gameleira onde passou a noite, utilizando-se para isto grossas cordas e um nó de marinheiro que um nortista metido a carioca aprendera – segundo ele – servindo na Marinha do Brasil. Diante da pressão e do monte de mãos que o segurava, Maneca, que escorregava mais que sabonete molhado, diante da desvantagem numérica, o jeito foi aceitar a derrota e… desfalecer completamente amarrado à gameleira.
No dia seguinte ao ser desamarrado – tendo antes que prometer não agredir mais nenhum companheiro -, pediu demissão e depois de muito meditar, solveu sozinho um garrafão quase cheio de pinga, quebrou uma “meiota” de vidro e rasgou diante de todo mundo o seu próprio rosto de uma ponta a outra, deixando o acampamento com ares de matadouro, todo lambuzado de sangue coalhado.
Foi muito difícil conter o sangramento, porém, chamaram às pressas o velho Zeferino Raizeiro que na afobação e diante dos esguichos de sangue que jorrava rosto afora, costurou (mal costurado) a cara do baixinho em “grossas pregas” com uma agulha de saco de estopa, deixando um pedaço do “beiço” dependurado, o que lhe incomodaria terrivelmente pelo resto da sua vida.
Depois de algum tempo de molho e de dezenas de emplastos de folhas, raízes e garrafadas amargas, feitas zelosamente pelo velho Raizeiro, Manequinha juntou as suas tralhas e do mesmo jeito que chegou, na calada da noite (sem nem ao menos se despedir) caiu na lapa do mundo e nunca mais deu sinal de vida.
FIM
Luiz Carlos Figueiredo
Escritor e Poeta
Cândido Sales, Bahia. Quadras de janeiro de 2025.
Lua Nova de Verão.