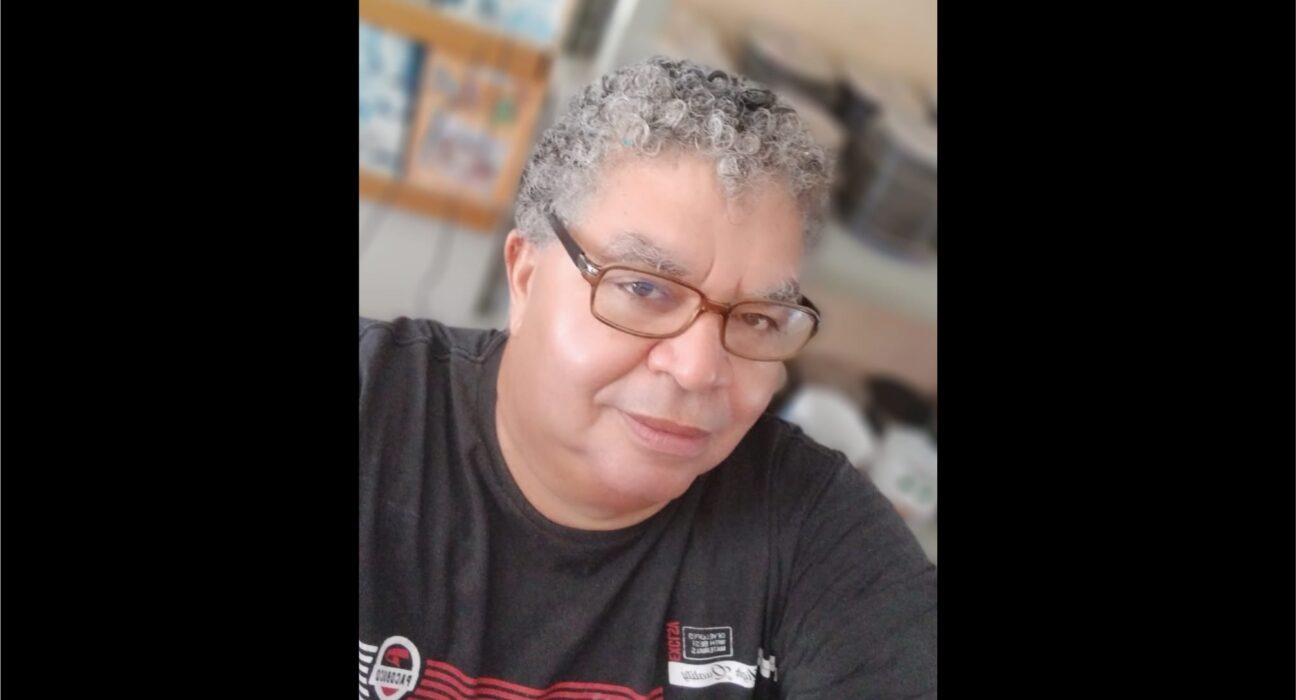Em 1964, o recém-emancipado município de Cândido Sales tinha apenas dois anos de vida, o nome Nova Conquista ainda ressoava na cabeça dos nossos munícipes. Éramos apenas duas ruas separadas por uma faixa de asfalto, tendo meia dúzia de casas de cada lado, um lote de quiosques construídos à base de tábuas recicladas decorando a beira da pista e os dois únicos postos de combustíveis deste torrão. A subsistência dos poucos moradores da cidade resumia-se aos trocados deixados pelos “paus-de-arara” que seguiam estrada acima com destino a São Paulo ou Triângulo Mineiro (como bem definiu o menestrel Elomar na música Arrumação). Candin era um tédio. O sol rachando, o vento fazendo redemoinho no meio da rua, um paradeiro lascado e de quando em vez um carro ou outro cruzando a BR-116. Um Volkswagen aqui, uma Rural ali, um Ford, um Jeep, um Alfa Romeo, uma Kombi acolá, um DKW Sedan e até mesmo um Sinca Chambord cruzando velozmente a rodagem. Observar a passagem dos veículos era a diversão da molecada. Além das pensões (que forneciam dormidas e comidas entrelaçadas as tenras carnes das “Damas-da-Noite”) havia também uma enorme quantidade de ambulantes. Estes moços – e moças – vendiam tudo quanto há, desde o rolete de cana até milho cozido e cocadas. O “PIB de Candin” se completava com a mão de obra dos mecânicos e borracheiros aqui existentes. Na época, uma das melhores oficinas da região era a do “Mestre Alfredo”, o pai de ninguém mais, ninguém menos, que Romildo (o tocador oficial da corneta do dia em que, pretensamente, Minas invadiriam a Bahia, começando por este torrão logo após a morte dos “Honório” – vide último capítulo do livro “Histórias que Candin se esqueceu de contar”), figura famosíssima da nossa história. Taí Zé Carlos Lima que não me deixa mentir e que aprendeu as primeiras letras do “beabá” ao lado dele. Quando Dona Iaiá (a professora) fazia a chamada e gritava o nome de “Romildo”, ao invés de responder “presente” como qualquer criança normal, o maluco dava uma cambalhota no meio da sala, sacava um revólver de madeira (confeccionado carinhosamente por ele) e gritava a pleno pulmões: – Pou, pou, pou! Romildo não, Roy Rogers. Morreu, “fessora”, morreu! Pou, pou, pou! – fingindo atirar na professora.
Bom, mas, não é a história de Romildo que eu vou contar aqui. Imagine aí década de 1964, um calor lascado, um paradeiro “retado”, o vento tirando folga e uma renca de mecânicos rezando para surgir um ganha pão? Aqui era assim. Raramente a monotonia era quebrada. Foi o que aconteceu quando apareceu por aqui “O Homem da Cruz”! Diziam as más línguas que era Jesus Cristo reencarnado, arrastando a sua cruz pelo asfalto, queria chegar até a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. O cara já tinha rodado o Nordeste todinho quando chegou neste torrão. Andava lentamente pelos acostamentos, debaixo de sol e chuva, de quando em vez algum motorista mal humorado passava tirando o maior fino, outro metia a buzina no pé dos ouvidos do infeliz e ele ali, seguindo sua sina. Magérrimo, faminto, malcheiroso, barbudo, cabeludo, rosto marcado, trajando apenas uma túnica rasgada e uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Andava caxingando sem demonstrar nenhuma emoção. Quando adentrou a nossa cidade, metade da população correu em sua direção. Mudo e ignorando solenemente os moradores, o estranho caboclo seguiu a sua Via Crucis arrastando aquela cruz enorme no meio do povo. Um alvoroço danado, fieis chorando, crentes se ajoelhando, ateus mangando e a molecada vaiando… e o “Cristo” ali, indiferente, carregando aquele pesão na cacunda, com os ombros sangrando em chagas. O suor banhando o seu corpo, o sangue escorrendo testa abaixo, lambuzando a coroa. Os pés esfolados em calos e sangue revelava o sofrimento daquele homem. Diante daquela cena, a carola Maria de Sinhá queria porque queria beijá-lo, sendo necessário a imediata providência dos seus irmãos de igreja. Inconformada a moça berrava desesperada:
– Estou aqui Jesus, você voltou para nos libertar, não foi? Nos perdoe em nome do pai. É Cristo, é nosso Senhor! Ele está entre nós! – Se Maria extravasava a sua fé gritando a pleno pulmões, Zacarias, chofer do DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens) um magérrimo homenzinho mal humorado que só andava comendo bananas (e que as más línguas dizia ser atêu), ao ver O “Cristo” de túnica branca, perdeu completamente as estribeiras e se invocou de bater no infeliz:
– Este homem é um impostor! Está blasfemando contra Cristo! Morte ao farsante, vamos apedrejá-lo até a morte! – Chegou até a pegar algumas pedras, Maria de Sinhá atravessou à frente e evitou a agressão. Ignorando solenemente o que acontecia o “Homem da Cruz” parou bem na frente da oficina de Mestre Alfredo. Chegou, arriou o artefato e se ajoelhou fazendo o sinal da cruz, para em seguida sentar-se à sombra. A algazarra fez que o Mestre Alfredo munido das suas grossas lentes dos seus óculos de graus, saísse da oficina e ao ver o Cristo se ajoelhou:
– Oh, meu senhor! É Jesus. Oh, meu Jesus Cristinho, o que fizeram com você, meu rei? Perdoe que eles não sabem o que fazem! Traga água para ele! – Enquanto o velho mecânico chorava se agarrando às vestes do homem, alguém apareceu trazendo uma caneca de água e o “Cristo” bebeu de uma golada só. Logo apareceram pessoas com pão, mel, frutas e até uma mistura de angu com carne do sertão. Sem dizer uma palavra o “Cristo” comeu tudo o que trouxera em um apetite voraz. Depois de se abraçar ao homem da cruz, Mestre Alfredo gritou em alto e bom som: – Amai ao próximo como a ti mesmo! Este é o desejo do pai. Agora vamos deixar o filho de Deus descansar. Se alguém bulir com ele vai ter que se acertar comigo, deixa o homem em paz! – Mestre Alfredo falou, a multidão que o cercava recuou institivamente. – Hoje ele dorme aqui, amanhã seguirá seu destino. Não é pra bulir com ele. Vão para as suas casas, deixem o Cristo em paz! – A palavra do velho era lei, a multidão afastou, porém, ficou olhando de longe. Após comer e beber, o “Cristo” se arranchou sobre uma esteira de palha – trazido às pressas por Maria de Sinhá – e após se abraçar com a cruz dormiu o sono dos justos.
No dia seguinte, mal acordou e já estava cercado de curiosos. Assim que raiou o dia se levantou, jogou a cruz na cacunda e lentamente desceu a rodagem. Uma multidão o seguiu até a ponte que limita nosso munícipio, atrapalhando completamente o tráfego. Passado menos de um mês chegou a notícia que um “motorista arrebitado” conduzindo uma carreta desembestada, atropelara e matara o “Homem da Cruz”, passando sobre o pobre infeliz. Oficialmente não houve nenhuma comprovação do sucedido, o que se sabe foi que muita gente hipotecou solidariedade à notícia chorando por várias noites na oficina do Mestre Alfredo.
Alguns dias depois apareceu por aqui um velho e capenga Ford F600, lento igual uma tartaruga, fazendo mais barulho que carro de boi. Os mecânicos ao verem o veículo adentrar a recém-emancipada cidade, correram para cima do carro e o conduziram até a Oficina “Arco Verde” de Mestre Alfredo. Profissional experiente, o velho butucou logo os “zóios” na placa, constatou ser um conterrâneo e imediatamente gritou para o seu “ajudante de ordens”:
– Licó, atenda aí o meu conterrâneo! – Na verdade o nome do ajudante era Chicó, só que a memória do velho mecânico não era mais a mesma. Chicó era um afro-americano forte de meter medo. Alto feito um poste, brigador feito o diabo e reliento ao extremo. Ninguém sabia explicar como um manauara saíra do estado do Amazonas para vir dar por este fim de mundo. Jovem e dedicado, o negro Chicó era o principal aprendiz e homem de confiança de Mestre Alfredo.
– Avia, Licó, o conterrâneo tem pressa! – Chicó achava divertidas as ordens do Mestre. Trabalhava com um ímpeto impressionante e quando recebia sua comissão saía pelos bares cortando água. Assim que o motorista desligou o motor lá foi Chicó colocando o macaco no veículo e entrando debaixo. Enquanto trabalhava era cercado de amigos. Chicó era muito querido, participava das festas, dos jogos e até dos treinos do time de futebol. O que sabia fazer bem era nos dias de jogos ficar atrás de um dos gols, quando a bola passava pelo goleiro ele a devolvia na base do soco, bem mais forte que o chute dos jogadores (a torcida enlouquecia). Os 70 anos do Mestre Alfredo não era empecilho para que ele desenvolvesse toda a sua arte do reparo de motores, diferenciais e caixas de marchas. Chicó (que faleceu em Manaus acometido de diabetes há alguns anos) ajudou a construir a fama da oficina do Mestre. Após uma rápida análise, o negão constatou que um dos feixes de mola estava quebrado. Enquanto tirava as molas danificadas, aproveitava para trocar dois dedos de prosa com o chofer.
– Graças a Deus! Pensei que não acharia uma oficina por aqui! – Falou o motorista parecendo cansado. – Daqui a pouco você segue viagem, moço! – Falou Chicó já colocando o macaco hidráulico para funcionar. Enquanto o motorista bebia uma água e Chicó fazia força para levantar o veículo, Mestre Alfredo ajeitava os óculos dando uma volta completa em torno do veículo, olhando a carga, os pneus, a carroceira, os faróis e, obviamente, a placa. Parou por alguns segundos e com a mão no queixo falou pra sim mesmo: – Sim, Senhor! Caruaru dos Bezerras! Fica pertinho de minha cidade, Arco Verde! – Olhou para o motorista que se sentara à sombra em cima da calçada. – “Tu sôis” de Caruaru dos Bezerras? Que mundo pequeno.
– Sim, senhor. Sou de lá e estou fora há mais de 40 dias. – Eu sou de Arcoverde, mesma região do Pernambuco! Como está àquela região, melhorou? – Qual nada, está do mesmo “jeitim”! E o senhor? Saiu de lá quando? – Há mais de vinte anos! Gostei da Bahia… Aqui dá pra se viver bem… Caruaru dos Bezerras! “Sôis” quase um conterrâneo meu! Licó, capricha aí que o homem é quase da minha cidade. Sabia que morei em Caruaru por três anos? – É mesmo? – Se surpreendeu o chofer! – Conheço um bando de gente lá! Sôis filho de quem? – Perguntou inocentemente o Mestre Alfredo! – Amaro Bezerra! Meu pai tem um armazém bem grande lá! É o maior comerciante daquela região. – Amaro, marido de Quitéria de Cícero Vagalume?
– Oxente… Sim. “Arre égua”! O senhor conhece o meu pai? – o velho ficou alguns minutos admirado e mantendo a calma ainda falou: – Então sôis filho de Amaro Bezerra? Que mundo pequeno é esse?
– Em carne e osso! – Falou o motorista estendendo a mão para o Mestre – Vou dizer a ele que me encontrei com o senhor nos confins da Bahia. Aperte aqui! – De uma hora para outra a cuíca mudou de tom. Instintivamente o mestre puxou a mão, ficou entrunfado, todo deformando e mais vermelho que um peru gritou pra Chicó:
– Licó, sai debaixo desta merda de carro agora! Não faço trabalho para “cabra rim não”! – O que?!!! – perguntou um assustado Chicó! Mestre Alfredo se dirigiu ao motorista e perguntou quase gritando: – Sabia que seu pai “sôis” um ladrão? Me roubou quinhentos minreis lá em Caruaru! Ladrão fí de uma cadela! Eu não trabalho para ladrão não! Saí de baixo Licó, esse “fí de uma égua” vai tirar este carro da minha porta agora ou vou botar fogo nesta bosta! Sai da minha porta, seu ladrão safado! Sai daqui agora! Se demorar eu boto fogo, seu merda!
Sabe-se como, o pobre do motorista, branco feito uma vela, ligou esse carro e saiu arrastando aquele monte de molas, sorte que a próxima oficina era perto. Pra lá de constrangido o infeliz só ouvia os gritos do Mestre Alfredo! – Seu pai é um ladrão, safado, descarado! Fila da puta! Fala pra ele que ele roubou o Mestre Alfredo! – Como veem, amar ao próximo não é pra amadores.
FIM
Luiz Carlos Figueiredo
Escritor e Poeta
Cândido Sales, Bahia. Quadra de Fevereiro 2024
Minguante de Verão.